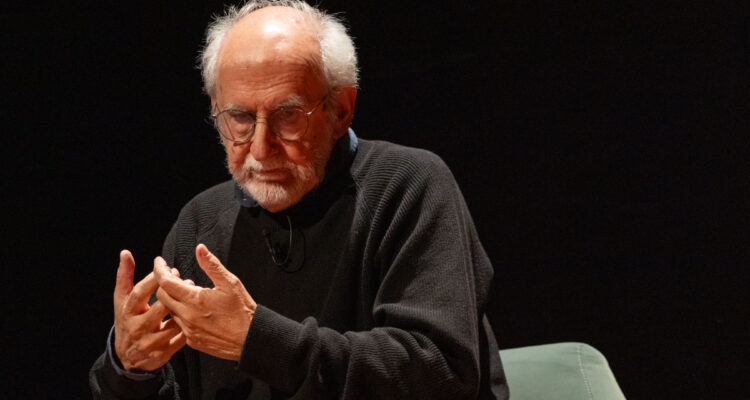Neste pequeno texto apresento dois conjuntos de opiniões destinados à figura do “jovem compositor” – actualmente muito presente e requisitada pelas instituições –, o que a minha idade já permite fazer sem grande paralisia, nem nenhuma arrogância. Sendo aparentemente opostos ou paradoxais à primeira vista, os dois pontos implicam-se mutuamente.
1. O compositor não compõe para os colegas gostarem, nem os professores gostarem, nem para os críticos elogiarem. Deve compor, primeiro, para a coisa-em-si, para a singularidade da obra; segundo, de acordo com as suas convicções e capacidades actuais e, finalmente, para essa abstracção chamada “público”. No início não há propriamente público: há outros membros do meio – colegas, professores – o que, dada a sua reconhecida pequenez, se configura como constituído por “outros produtores pertencentes ao campo restrito”. Mais tarde, quando houver público propriamente dito, esse estará ali porque quis ir, porque tem curiosidade ou interesse genuíno e não está (des)motivado por quaisquer outras razões obscuras. Nesse momento “é um público” e teremos a grande vantagem de nunca sabermos quem o constitui. A reacção do público será importante de ter em conta se o público for um público. Se o for apenas na aparência, na verdade não conta como tal. Mas, ao mesmo tempo – e aqui reside o primeiro aparente paradoxo –, o jovem compositor deve manter a atenção desperta para, a multiplicidade das opiniões que colegas, professores e músicos estão sempre prontos a dar, no fim, no meio ou, até, antes dos concertos, filtrar e considerar com atenção aquelas que vale a pena reter por serem honestas e aptas para fazer pensar e evoluir. De modo inverso, deve filtrar aquelas que podem ocultar um preconceito, uma imaturidade ou um objectivo secreto destrutivo, movido pelas mais variadas razões, e ser capaz de, uma vez identificadas as do segundo tipo, as enviar para uma espécie de caixote do lixo de onde não deviam ter saído, se o mundo fosse perfeito. Mas a estrutura dos campos artísticos é como é, e será melhor conhecer bem as regras do seu funcionamento do que ignorá-las. Distinguir a diferença entre estes dois tipos de “opiniões”, sendo muito difícil no início, vai-se tornando cada vez mais clara com o tempo. Do mesmo modo, é no tempo, com a sua passagem, que se pode construir uma individualidade.
2. O segundo ponto que quero partilhar mantém alguma tensão com o primeiro já descrito, senão uma aparente contradição. Enquanto o primeiro se dirige à possibilidade da individuação – criação de um ser autónomo, capaz de administrar o seu próprio auto-criticismo produtivo –, o segundo dirige-se à consciência indispensável de que “não se está sozinho no mundo”. A capacidade última da individuação será a capacidade de “assinar” no meio de “outros”. Existe uma tendência crescente para a inversão do problema, ou seja, a crença demasiado precoce de que “já existe” uma tal capacidade individual. A manifestação dessa crença verifica-se em dois aspectos: a aparição – antes do tempo – da formação discursiva “a minha música” no discurso corrente do jovem compositor e, de forma concomitante, um desinteresse pelo trabalho dos colegas/concorrentes, dos professores e mesmo dos mestres sacralizados pelas narrativas dominantes ou emergentes – que se traduz normalmente na ausência dos concertos com música de outros. Tenho alguma dificuldade em imaginar um poeta que não gosta de ler poesia, um romancista incapaz de ler outros romancistas. É óbvio que este fenómeno resulta do extremo individualismo que se foi alargando nas nossas sociedades a partir dos anos 1980. O lema publicitário “be yourself”, destinado a vender bebidas, automóveis ou telemóveis, introduziu essa ideologia pós-moderna e neoliberal há décadas. Mas se o “jovem compositor” deve prosseguir o objectivo de criar uma individualidade não é forçoso que esse objectivo implique nem auto‐encantamento, nem isolamento-do‐mundo, factores produtores de várias formas de autismo: para usar a metáfora do arquipélago, a constituição do sujeito criativo como único habitante da sua ilha. O risco maior de uma tal atitude – nem sempre consciente – será que aquele que se constitui como único habitante da sua ilha criativa pode tornar-se igualmente o único espectador e admirador da “sua” música. A atenção-ao‐mundo implica necessariamente uma atenção ao outro-compositor, diferente, diverso, dotado de uma outra individualidade, de outras crenças ou convicções, é certo, mas eventualmente capaz de desencadear estímulos, impulsos propulsores de respostas criativas mais ricas.
O equilíbrio entre a busca-de-si-próprio e a atenção-ao-outro – e o respeito por ele – é fulcral para evitar o aparecimento do autismo em torno de si próprio e, eventualmente, a constituição de um autor imaginário. A extrema divisão actual em múltiplas tribos favorece subrepticiamente o aparecimento desta tentação. Mas o compositor que não ouve música dos outros vai a meio caminho de criar, como boomerang, o facto inverso: não ter ninguém para ouvir “a sua própria música” (no caso de ela vir a existir de forma relevante).
Texto publicado na Glosas n.º 6, p. 74.
Fotografia: @apv